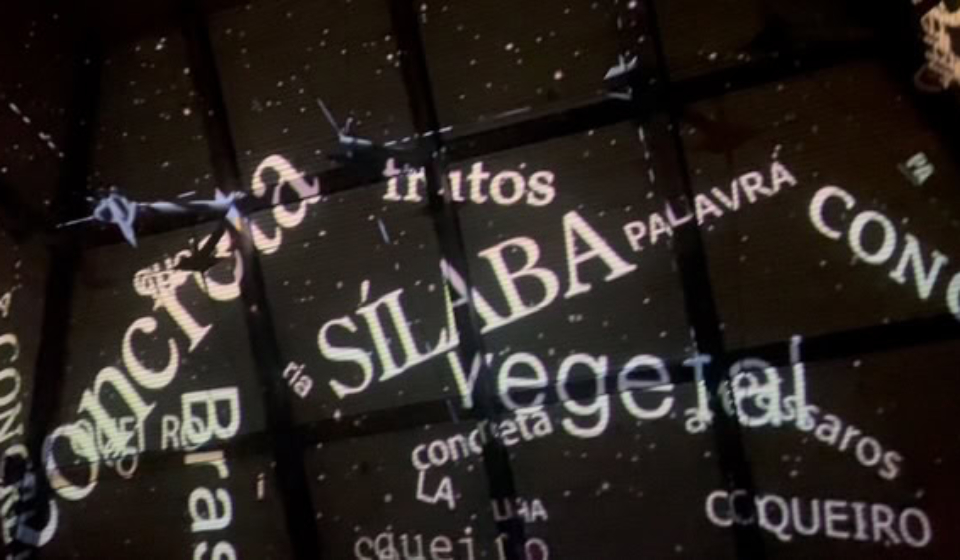Num mundo pós pandemia não será possível viver sem utopia. A conclusão é do sociólogo português, poeta e escritor, Boaventura de Sousa Santos. "É a única maneira de ser realista no século XXI". Utopia será a marca deste tempo.
A reflexão é resultado de toda a trajetória histórica do comportamento social a partir das diferentes formas de dominação, sobretudo pelo capitalismo que, cada vez mais, torna a humanidade mais desumana. O cientista social falou aos Estados Gerais da Cultura (clique aqui para ver) num encontro memorável, pelo qual analisa os equívocos de usar a expressão ‘distância social’ na pandemia, para definir isolamento físico.
O encontro aconteceu no ano passado (em outubro de 2020), em plena pandemia, no entanto, as palavras de Boaventura não perderam a atualidade, pelo contrário, intensificaram-se no seu significado, com o conflito Ucrânia e Russia. A humanidade não consegue deixar de usar a força para demonstrar poder e diante disso, só nos resta esperançar, a esperança com ação, (como preconizou Paulo Freire), e ser utópico. Isto é, acreditar que vamos mudar o mundo, torná-lo mais justo e menos desigual.
Como mostramos na Mandala da Utopia idealizada pelo designer Marcela Weigert, que colorida e cheia de vidas diversas poderá girar igual para todo mundo. Sim girar em torno do conhecimento, do livro, da educação para todos os grupos sociais.

Colonialismo, patriarcado e capitalismo
O retorno ao passado e às formas de dominação foi necessário para entender o significado da “distância física, à social e à cultural” durante a pandemia. Na magnifica aula de Sociologia oferecida pelo professor, catedrático jubilado da Universidade da Faculdade de Economia da Universidade Coimbra e Distinguished Legal Scholar da Universidade de Wisconsin-Madison, o fato de usar a palavra distância – um termo que explodiu na comunicação social pela pandemia – pode ser temporal ou espacial. Mas metaforicamente sempre foi usada nas diferentes formas, no entanto, o que não se prestou atenção durante a pandemia que distância social é diferente conceitualmente da distância física.
“A distância social é aquela criada entre seres humanos num conjunto de relações sociais que decorre pela desigualdade de poder. Esta distância para ser legitimada deve ser transformada num sentido de vida, num senso comum e então transforma-se em distância cultural. Estão relacionadas mas podem estar diferente”.
É possível estar próximo fisicamente e socialmente distante. O exemplo citado por Boaventura, foi o caso da primeira empregada doméstica que morreu de covid 19 no Brasil, porque trabalhava numa casa, cujo patrões vieram da Itália infectados. Ela morreu porque já tinha outras condições de vulnerabilidade. A senhora estava próxima e vivia com eles, mas socialmente distante. É a distância que determina que esse corpo é distante socialmente mesmo muito próximo.


Houve negligência porque era um corpo não tão importante mesmo que esteja muito próximo.
A partir desse e de muitos outros exemplos que fazem parte da sociedade contemporânea, Sousa Santos mostrou como o colonialismo e o patriarcado se mantiveram como dominação, travestidos com outros nomes e permanecem como mazelas, acentuando-se com o capitalismo.
“Significa que vivemos em sociedades colonialistas e patriarcais”.
O racismo, a violência contra mulher, o feminicídio, concentração de terras, as formas extrativistas de governo, que hoje o Brasil é protagonista mundial, são exemplos de colonialismo que estão inscritos nessas sociedades.
“A ideia que há uma humanidade é uma grande armadilha.
A humanidade é um projeto maravilhoso, mas é uma utopia porque a humanidade que nós temos nas sociedades capitalistas, colonialistas e patriarcais não existem sem sua humanidade.
Para ilustrar de uma forma muito evidente, na mesma semana em que o Brasil ultrapassou 100 mil mortes do covid 19 (época do encontro) nada aconteceu. Não houve convulsão política, redes sociais não falavam dessa realidade. Uma certa banalização da vida de populações que são pobres, pretas e pardas. Tal é qual como os EUA. A possibilidade nos EUA de um preto morrer de covid morrer é de três a quatro vezes maior que um branco.
O fato de uma menina de 10 anos, vítima de estupro, é histeria contra a retirada do feto. O que é isso? De um lado um 100 mil vidas ( outubro de 2020) de outro, um alarido. Há vidas e vidas. As 100 mil mortes são típicas das severinas como em Morte e Vida Severina.
Vidas descartáveis.
Ao passo que vida do embrião é uma vida manipulada por uma religião colonialista, cristã que deu um valor extraordinário a esse embrião, transformado em fundamentalismo. Nem sequer a vida da criança interessava, era uma criança certamente parda, Era uma vida que trazia com ela sem sua vontade. Portanto dois pesos e duas medidas. São duas imagens de uma mesma sociedade e tão perturbadora. (…)
Vida que vale é vida que é descartável. Essas formas de desigualdade de poder estão na origem da distância social em que nós nos encontramos. De alguma maneira a distância social agravou-se com a pandemia. Por que ? O vírus agravou as desigualdades sociais. Quem é morre mais: os presos, as mulheres, os refugiados, as populações negras e pardas. (…) A distância cultural legitima a distância social e o que dá sentido a vida. Uma cultura dominante é uma forma de legitimar a sociabilidade de uma sociedade. Acultura dominante pode designar o que é cultura e o que não é. Pode criar a distância cultural de uma maneira muito simples negar a existência de outra cultura. A negação total. Pode reconhecer a existência de outras culturas de que somos completamente indiferente obviamente considerada inferior. (…) O fundamentalismo religioso é algo que existiu desde o século XVII. Agravou-se com a Pandemia. Fundamentalismo religioso é forma de dominação cultural.
Uma das grandes oportunidades que nos dá é a utopia porque vem reabilitar a ideia de alternativa.
Nós vivemos nos últimos 40 anos numa grande pandemia, a do neoliberalismo (…).
A pandemia está a dar uma lição. Não é um inimigo, é um pedagogo cruel porque ensina matando, que precisamos mudar o modelo de desenvolvimento. Portanto, não podemos ter vergonha de ser utópicos.
Fonte: Da distância física à distância social e à distância cultural ( leia aqui o pensamento completo).
* Em tempo: